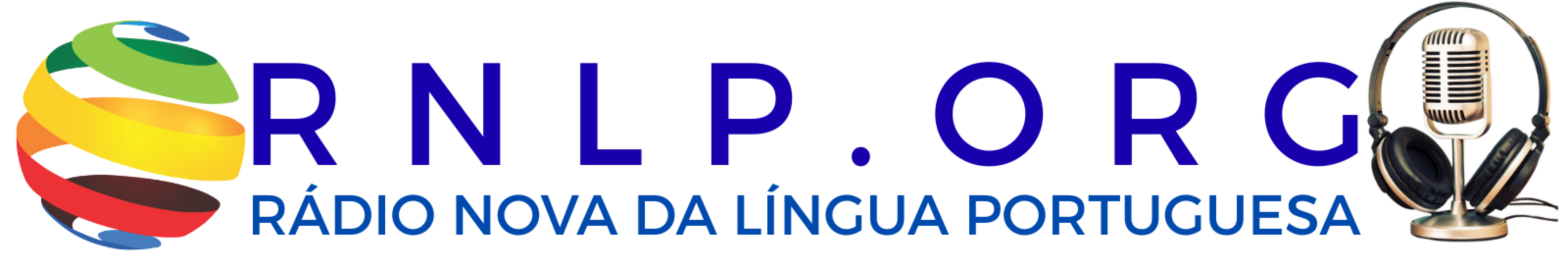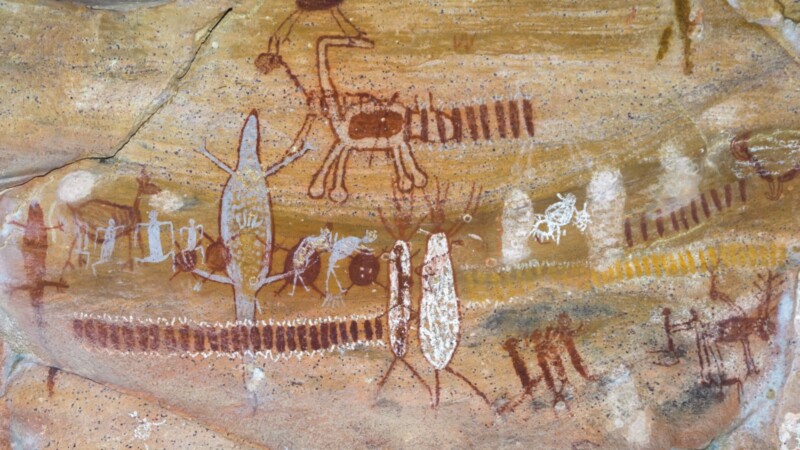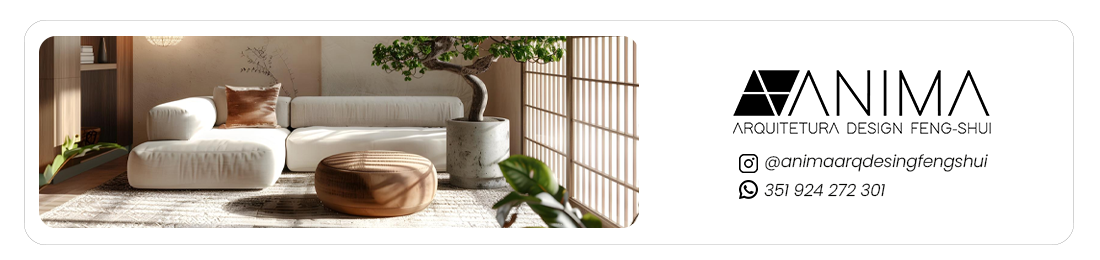Durante o século XVII, enquanto a Europa travava guerras dinásticas e coloniais, no coração da África centro-ocidental emergia uma das figuras mais extraordinárias da história universal: Nzinga Mbandi, também conhecida como Rainha Njinga de Ndongo e Matamba. Diplomata, estrategista, guerreira e soberana, ela transformou a política africana e enfrentou de igual para igual o poderio militar e político do Império Português.
Mas quem foi, de fato, Nzinga Mbandi? O que é história comprovada — e o que é mito na sua trajetória?
Nota Introdutória à Série “Povos soberanos de África”
Os textos que compõem esta série são fruto de um extenso trabalho de pesquisa, reunindo informações de diversas fontes — algumas históricas e academicamente reconhecidas, outras baseadas em tradições orais que atravessaram gerações. O nosso objetivo é o de trazer a público uma leitura viva e acessível sobre personagens, acontecimentos e civilizações africanas que marcaram a história, tentando equilibrar o rigor científico com o respeito à memória ancestral.
Sabemos, no entanto, que a História nem sempre é exata: pode conter lacunas, interpretações distintas e até equívocos inevitáveis. É possível que certas passagens despertem sensibilidades ou contrariem visões patrióticas. Por isso, convidamos o leitor a caminhar conosco neste processo de redescoberta — e, sempre que encontrar algo que julgue impreciso, fora de contexto ou inapropriado, que nos diga. O diálogo é parte essencial desta jornada de conhecimento e reconstrução da nossa memória coletiva.
Origens e genealogia de uma linhagem real
Nzinga Mbandi nasceu por volta de 1582, no seio da família real do Reino de Ndongo, uma das mais poderosas formações políticas da região centro-oeste da atual Angola. O seu pai, Ngola Kiluanje kia Samba, também chamado Ngola Kilombo kia Kasenda por algumas fontes, foi soberano de Ndongo, e sua mãe, Kengela ka Nkombe, pertencia a uma linhagem nobre da corte.
Segundo a tradição oral ambundu, Nzinga nasceu em circunstâncias especiais: teria vindo ao mundo com o cordão umbilical enrolado à volta do pescoço, sinal de que o destino lhe reservava poder e bravura — um presságio comum nas culturas bantu.
Historicamente, porém, essa narrativa é simbólica e não comprovada. O que se sabe, com base em registros portugueses e crônicas missionárias (como as de Cavazzi de Montecuccolo, século XVII), é que Nzinga cresceu numa corte politicamente instável, marcada por disputas sucessórias, pressões externas dos portugueses e alianças com povos vizinhos, como os Imbangala.

Os Ndongo no século XVI: poder africano em transformação
O Reino de Ndongo, localizado ao longo do rio Kwanza, era um Estado independente, herdeiro do sistema político e cultural bantu e, originalmente, vassalo do poderoso Reino do Congo.
Nessa época, Ndongo era uma sociedade centralizada, hierárquica e militarmente estruturada. O poder era exercido pelo Ngola (rei), assistido por uma elite de chefes locais chamados sobas. A sucessão era matrilinear, o que dava às mulheres um papel social importante — embora o comando político, na prática, fosse quase sempre masculino.
Em termos tecnológicos e econômicos, os Ndongo dominavam a metalurgia do ferro, a agricultura intensiva (com cultivos de milho, sorgo, inhame e banana) e mantinham rotas comerciais que conectavam o interior ao litoral atlântico. Comparados aos europeus, os Ndongos não possuíam pólvora nem cavalaria, mas detinham uma estrutura política e administrativa bastante sofisticada, bem adaptada ao ambiente e à cultura local (Miller, 1976; Birmingham, 1966).
Infância, formação e ambiente social
Nzinga foi educada no interior da corte, onde recebeu formação política, linguística e militar. Fontes históricas indicam que falava fluentemente kimbundu (a língua local) e português, o que mais tarde lhe daria grande vantagem diplomática.
Desde jovem, acompanhava o pai nas audiências da corte e cerimônias políticas, observando o funcionamento do poder e as tensões crescentes entre os Ndongo e os colonizadores lusos.
Segundo Heywood (2017), Nzinga cresceu num contexto de guerra constante e fragmentação política. Após a morte do pai, o seu irmão Ngola Mbandi assumiu o trono, mas enfrentou forte oposição interna e derrotas militares frente aos portugueses e seus aliados africanos. Nzinga, então, emergiu como conselheira e diplomata, papel incomum para uma mulher do seu tempo.
Os primeiros contatos com os portugueses
Em 1622, Nzinga foi enviada como embaixadora a Luanda, a então capital portuguesa em Angola, para negociar um tratado de paz.
O encontro com o governador português João Correia de Sousa tornou-se lendário. Segundo cronistas, Nzinga foi deixada sem cadeira na audiência — um gesto de humilhação simbólica. Para manter a sua dignidade de dignatária real, teria ordenado que uma das suas servas se ajoelhasse e servisse de assento, posicionando-se assim ao mesmo nível do governador.
Este episódio é amplamente difundido na tradição oral e iconografia moderna, mas os historiadores divergem quanto à sua veracidade factual. O gesto, se ocorreu, representa uma forma de resistência simbólica que traduz o espírito político da rainha: nunca se colocar abaixo do colonizador.
O acordo resultante — o Tratado de Luanda (1622) — previa paz entre os Ndongo e Portugal, libertação de cativos e abertura para missionários cristãos. Nzinga foi batizada com o nome Ana de Sousa, e os portugueses esperavam dela submissão.
O que receberam, no entanto, foi uma estratega implacável.
O caminho até ao trono
Com a morte do irmão Ngola Mbandi, em 1624, Nzinga assumiu o trono dos Ndongo. Alguns cronistas europeus afirmam que ela teria provocado ou incentivado a morte do irmão para ascender ao poder — uma acusação comum contra mulheres soberanas, especialmente em fontes patriarcais.
As evidências, no entanto, são inconclusivas. Estudos recentes (Heywood, 2017) indicam que a ascensão de Nzinga seguiu as normas matrilineares de sucessão, reforçadas por apoio político interno.
O seu reinado começou sob intensa pressão: o avanço militar português, as revoltas de sobas aliados aos colonizadores e as incursões dos Imbangala, grupos guerreiros mercenários. Nzinga respondeu com uma mistura de diplomacia, guerra e astúcia.
Guerras, resistência e a Rainha Guerreira
Expulsa temporariamente do Ndongo, Nzinga reorganizou-se no reino vizinho de Matamba, cuja corte assumiu em 1631. A partir daí, construiu um Estado forte, centralizado e militarmente ativo, que se tornaria o Reino Unido de Ndongo e Matamba.
Ela promoveu alianças com povos rivais dos portugueses, controlou rotas comerciais e adotou práticas dos Imbangala, incluindo rituais guerreiros e estrutura militar disciplinada.
Entre 1635 e 1648, enfrentou com sucesso tropas portuguesas e seus aliados africanos. Durante a ocupação holandesa de Luanda (1641–1648), Nzinga aliou-se aos holandeses, vendo neles uma oportunidade de enfraquecer o domínio luso. Essa política externa flexível demonstra a sua compreensão do equilíbrio de poder atlântico — um verdadeiro jogo de xadrez político num contexto colonial em formação.
Mulher no poder: entre o tabu e o mito
O reinado de Nzinga desafiou as normas de gênero tanto africanas quanto europeias.
No contexto bantu, embora as mulheres tivessem importância espiritual e simbólica, a chefia política suprema era predominantemente masculina. Nzinga, portanto, rompeu paradigmas culturais ao exercer o poder militar e diplomático direto.
Na ótica europeia, ela foi frequentemente retratada como “viril”, “cruel” ou “feiticeira”, epítetos usados para desacreditar mulheres poderosas. No entanto, estudos recentes reinterpretam essas narrativas, mostrando que a sua conduta seguia estratégias políticas de sobrevivência (Heywood, 2017; Thornton, 2001).
Tradições orais descrevem Nzinga como uma mulher que comandava pessoalmente os seus exércitos, liderava rituais e mantinha um harém composto por homens — uma inversão simbólica do modelo patriarcal. A ciência histórica, porém, reconhece que tais relatos são metáforas de poder e independência, mais do que fatos literais.
Família, relações e sucessão
Os registros históricos sobre a sua vida privada são escassos e, na sua maioria, provenientes de cronistas europeus. Sabe-se que Nzinga teve irmãs, entre elas Kambu, que a sucedeu no trono de Matamba após a sua morte, em 1663.
Não há comprovação de descendência biológica direta. Algumas tradições orais afirmam que ela teve filhos ou adotou herdeiros, mas tais informações não são sustentadas por evidências documentais.
Nzinga manteve também alianças familiares e políticas por meio de casamentos e pactos simbólicos — práticas comuns nas dinâmicas régias africanas da época, comparáveis às alianças matrimoniais europeias usadas para consolidar poder.
A morte e o legado
Nzinga Mbandi morreu em 1663, aos cerca de 80 anos, tendo governado Matamba até o fim da vida. O seu reino manteve relativa independência até ao final do século XVIII, quando foi gradualmente absorvido pelo sistema colonial português.
Hoje, Nzinga é símbolo nacional de resistência, soberania e identidade feminina africana. O seu nome batiza ruas, escolas e monumentos em Angola, e sua história é estudada mundialmente como exemplo de liderança política e anticolonial.
Ciência, história e mito
A figura de Nzinga é um campo de intersecção entre história documentada e a mitologia nacional angolana.
-
Comprovação científica: a sua existência, reinado, tratados com os portugueses, alianças com holandeses e domínio sobre Matamba são historicamente atestados.
-
Zona interpretativa: o episódio da cadeira, o harém masculino e certas práticas rituais pertencem mais ao universo simbólico do que à documentação empírica.
A leitura moderna da sua trajetória ultrapassa o exotismo colonial e reconhece Nzinga como líder política de alta complexidade, inserida num contexto geopolítico global.
Conclusão
Nzinga Mbandi não foi apenas uma rainha africana: foi uma estadista à altura dos grandes nomes da política mundial do século XVII.
Enquanto reis e rainhas europeus disputavam colônias e tronos, Nzinga forjou um império de resistência, governou com inteligência, usou a diplomacia como arma e transformou o gênero em instrumento de poder, não de limitação.
A sua história é o testemunho vivo de que a África pré-colonial produziu civilizações e lideranças sofisticadas — e que, nas margens do Kwanza, ergueu-se uma mulher capaz de desafiar impérios.
Referências principais
-
Birmingham, D. (1966). Trade and Conflict in Angola: The Mbundu and Their Neighbours under the Influence of the Portuguese, 1483–1790. Oxford: Clarendon Press.
-
Heywood, L. (2017). Njinga of Angola: Africa’s Warrior Queen. Cambridge, MA: Harvard University Press.
-
Miller, J. C. (1976). Kings and Kinsmen: Early Mbundu States in Angola. Oxford: Clarendon Press.
-
Vansina, J. (1990). Paths in the Rainforests: Toward a History of Political Tradition in Equatorial Africa. Madison: University of Wisconsin Press.
-
Thornton, J. (2001). Africa and Africans in the Making of the Atlantic World, 1400–1800. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
A RNLP - Rádio Nova da Língua Portuguesa
- é feita por lusófonos de várias origens.
Fique sintonizado com a nossa emissão,
instalando os nossos aplicativos:
Web APP: Aplicação para o seu Browser:
Android APP: Para Instalar o aplicativo no celular / telemóvel Android:
Onde quer que você esteja!!!
Somos 280 milhões e a quinta língua mais falada no mundo